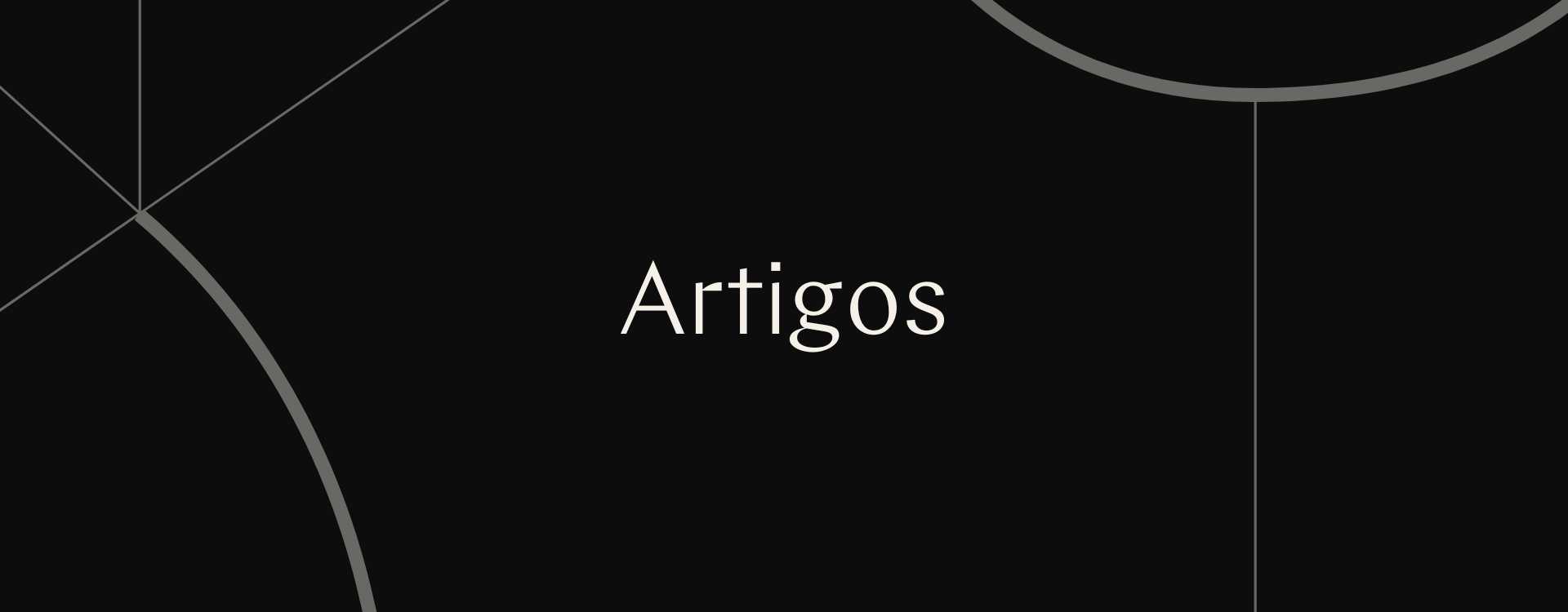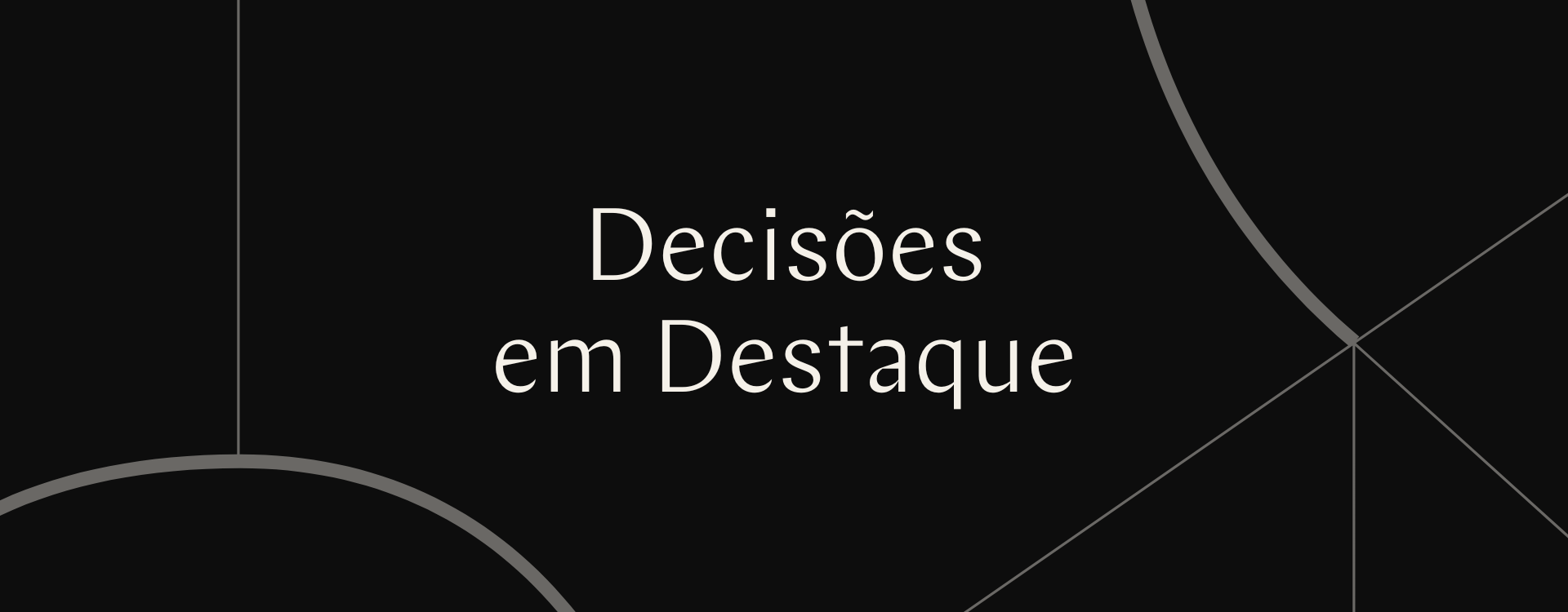O estudo da gênese da reclamação constitucional pode bem servir como um parâmetro de análise do progresso da própria jurisdição constitucional no Brasil.
Sua dinâmica de desenvolvimento foi marcada por uma espécie de “construção” a partir de várias aplicações e com base em previsões normativas (nem sempre precisas), além dos julgados do Supremo Tribunal Federal. Esse desenvolvimento caótico tornou a reclamação constitucional um instrumento mais maleável e à mercê da resolução de problemas práticos imediatos, uma vez que nunca contou com um “estatuto”, ou seja, uma lei prévia que lhe disciplinasse formalmente o funcionamento. Quando veio a lei, o instituto já estava consolidado e consagrado.
Mesmo hoje e após sua previsão na Constituição de 1988 (art. 102, I, “l”, da CF), seu “estatuto” somente se plasmou recentemente com os arts. 988 a 993 da Lei nº 13.105, de 16.03.2015 (Código de Processo Civil). Antes disso, a fonte primária de sua disciplina se encontrava no Regimento Interno do STF de 1980 (arts. 156 a 162), com alterações tópicas em 2001 (Emenda Regimental nº 9) e em 2004 (Emenda Regimental nº 13).
Esse fato evidencia uma tensão latente na própria autopoiese do instituto e que marcou o seu desenvolvimento: afinal, a reclamação constitucional é uma “criatura” própria do STF, disciplinada por regimento interno e vocacionada a resolver os problemas próprios da jurisdição constitucional, ou, ao contrário, é um instrumento do nosso sistema processual, regulado por lei formal e tendente a ser adotada por qualquer tribunal do país?
Por outro lado, a reclamação constitucional transitou, ao longo de seu crescimento, entre modelos bem definidos: de mecanismo vinculado aos processos subjetivos até instrumento a serviço do controle concentrado de constitucionalidade; de veículo de defesa da autoridade da jurisdição constitucional para meio de definição da extensão de suas próprias decisões.
A análise do passado e o do presente desse instituto revela, em rigor, um claro sincretismo dessas posições, uma forma de fusão de horizontes que destaca sua característica bivalente. Desse desenvolvimento pouco linear, surge modernamente uma nova função da reclamação constitucional.
BREVE HISTÓRICO DO SEU INÍCIO
A “criação” da Reclamação Constitucional
A criação do referido instituto no Brasil se deu pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e está associada à aplicação da ideia dos “implied powers” (a teoria dos poderes implícitos) utilizada pela primeira vez pela Suprema Corte Americana no caso McCulloch v. Maryland (17 U.S. 316 (1819)). Nessa linha, já afirmava o Ministro Rocha Lagoa, no julgamento da RCL nº 141, de 1952 (DJ 25.01.1952): “A criação dum remédio de direito para vindicar o cumprimento fiel das suas sentenças, está na vocação do Supremo Tribunal Federal e na amplitude constitucional e natural de seus poderes. Necessária e legítima é assim a admissão do processo de Reclamação, como o Supremo Tribunal tem feito.” De fato, a reclamação, desde cedo, fez parte da competência autoatribuída pelo STF, tendo sido julgado o primeiro caso ainda em 1891.
Cumpre observar, portanto, que a existência da reclamação como instrumento de defesa da autoridade do Tribunal está ligada, desde o início, à premissa de autogoverno, de autoadministração e de autogestão de uma Suprema Corte. Ao se tratar do tribunal de mais alta estatura no modelo político-institucional – em relação ao qual não há recurso cabível de suas decisões – é necessário que a Corte mesma tenha os instrumentos capazes de fazer valer suas próprias decisões.
Trata-se, assim, de um consectário natural e típico do Órgão de Cúpula do Poder Judiciário e, por isso, vincula-se excepcionalmente à dimensão político-constitucional das atribuições de uma Suprema Corte. Foi nessa linha que a reclamação foi criada e utilizada nos 60 primeiros anos do Supremo Tribunal Federal: como uma extensão “processual” dos seus “poderes implícitos”.
Reclamação Constitucional e Regimento Interno
Paralelamente a esse desenvolvimento administrativo e “jurisprudencial” do instituto, ocorreu novidade com a promulgação da Constituição de 1934: pela primeira vez a Constituição atribuía aos Tribunais o poder de “elaborar os seus regimentos internos” (art. 67, “a”). Antes disso, o termo “regimento interno” se referia às regras próprias de funcionamento das Casas Legislativas e sua importância estava no fato de que seu conteúdo definia um âmbito temático defeso de controle jurisdicional. A jurisprudência da matéria “interna corporis” era o reconhecimento definitivo da importância política dos regimentos internos do Poder Legislativo. Esse conceito foi estendido em 1934, no que se tornou uma tradição constitucional brasileira: a garantia do poder de autogoverno dos tribunais a gerar a competência de elaborar suas próprias regras internas (art. 93, “a”, Constituição de 1937; art. 97, II, Constituição de 1946; art. 110, II, Constituição de 1967; art. 115, III, da EC nº 01/69; art. 96, I, “a”, da Constituição de 1988).
Em 02.10.1957, o instituto da reclamação foi formalmente previsto pela primeira vez em ato normativo, por meio de sua incorporação ao Regimento Interno do STF, a partir de proposta de inclusão do então Ministro Ribeiro da Costa. Pela relevância, vale a transcrição dos dois primeiros artigos daquela emenda regimental1:
Capítulo V-A da Reclamação
Art. 1º O Supremo Tribunal Federal poderá admitir reclamação do Procurador-Geral da República ou de interessado na causa, a fim de preservar a integridade de sua competência ou assegurar a autoridade de seu julgamento.
Art. 2º Ao Tribunal competirá, se necessário:
I – Avocar o reconhecimento de processo em que se verifique manifesta usurpação de sua competência, ou desrespeito de decisão que haja proferido;
II – Determinar lhe sejam enviados os autos de recurso para ele interposto e cuja remessa esteja sendo indevidamente retardada.
Na “Justificação” da emenda regimental, assim encaminhou o tema o Ministro Ribeiro da Costa precisando, no seu entender, a natureza jurídica da reclamação:
“A medida processual de caráter acentuadamente disciplinar e correcional, denominada reclamação, embora não prevista, de modo expresso, no art. 101, n.º I a IV, da Constituição Federal, tem sido admitida pelo Supremo Tribunal Federal, em várias oportunidades, exercendo-se, nesses casos, sua função corregedora, a fim de salvaguardar a extensão e os efeitos de seus julgados, em cumprimento dos quais se avocou legítima e oportuna intervenção.
A medida da reclamação compreende a faculdade cometida nos órgãos do Poder Judiciário para, em processo especial, corrigir excessos, abusos e irregularidades derivados de atos de autoridades judiciárias, ou de serventuários que lhe sejam subordinados. Visa a manter sua inteireza e plenitude o prestígio da autoridade, a supremacia da lei, a ordem processual e a força da coisa julgada.
É, sem dúvida, a reclamação meio idôneo para obviar os efeitos de atos de autoridades, administrativas ou judiciárias, que, pelas circunstâncias excepcionais, de que se revestem, exigem a pronta aplicação de corretivo, enérgico, imediato e eficaz que impeça a prossecução de violência ou atentado à ordem jurídica.
Assim, a proposição em apreço entende com a atribuição concedida a este Tribunal pelo art. 97, nº II, da Carta Magna, e vem suprir omissão contida no seu Regimento Interno.”
Como se vê, o entendimento de época era de que o “novo” instituto encontrava a sua sedes materiae na Constituição de 1946, no ponto em que o texto previa justamente o poder do STF de elaborar seu regimento interno (art. 97, II), atribuindo-lhe formalmente a capacidade institucional de auto-organização (embora já fosse tranquilo na doutrina que essa atribuição advinha, não de previsão constitucional, mas da própria natureza do Tribunal) e de defesa, por seus meios, de sua autoridade jurisdicional.
É importante destacar também que nesse período não se tinha estabelecido o debate acerca da diferenciação clara entre “procedimento” e “processo”, de forma que a tal autonomia de elaboração do regimento interno dos tribunais, exercida com grande destaque pelo STF, resvalava na efetiva “criação” de institutos processuais, à margem da lei (no caso o Código de Processo Civil de 1939, instituído pelo Decreto-Lei nº 1.608, de 18.09.1939). Note-se, nesse sentido, que, na linha da justificativa do Ministro Ribeiro da Costa, a reclamação estaria localizada topograficamente no limiar entre temas jurisdicionais e administrativos já que também poderia ser dirigida contra serventuários e autoridades administrativas.
Reforçava-se essa autonomia do STF em uma longa tradição histórica: quando da sua instalação o STF já aprovara o seu primeiro Regimento Interno em 08.08.1891. A partir dali outros 4 foram aprovados: o Regimento Interno de 1909, o Regimento Interno de 1940, o Regimento Interno de 1970 e o Regimento Interno de 1980 (atual).
Competência “Legislativa” do STF
Com a promulgação da Constituição de 1967, tem-se novo capítulo para a reclamação, uma vez que o seu art. 115, parágrafo único, “c” estabeleceu, especificamente para o STF, que o Regimento Interno “estabelecerá o processo e o julgamento dos feitos de sua competência originária ou de recurso.”
Ao Supremo Tribunal Federal era concedido, agora oficialmente, competência “legislativa” processual e, portanto, todas as previsões que constavam do seu Regimento Interno de 1940 (bem como do Regimento Interno, aprovado em 04.09.1970, e ainda aquelas do Regimento Interno de 1980) adquiriram, no que tange a processo no Tribunal, estatura de lei federal. A reclamação, assim, encontrava finalmente a sua base legal, por assim dizer. Esse regramento se manteve com a EC nº 01/69, com base no art. 120, parágrafo único, “c”.
O famoso “Pacote de Abril” do então Presidente Ernesto Geisel adicionou um novo elemento a todo esse contexto. A Emenda Constitucional nº 07, de 13.04.1977, reafirmou esse postulado da força de lei do Regimento Interno do STF, com a nova redação do art. 119, § 3º que igualmente fixava a competência do regimento interno para estabelecer “o processo e o julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal e da arguição de relevância da questão federal” tal como havia sido feito em 1967.
O ordenamento constitucional se dirigia, de fato, para garantir ao STF os instrumentos necessários à defesa de sua competência e de sua própria posição institucional na estrutura do Poder Judiciário. É por conta dessa mesma perspectiva que a EC nº 07/77 também criara o instituto da “avocatória” (nova alínea “o” do inciso I do art. 119 da Constituição de 1967/1969) ao atribuir ao Tribunal o poder de processar e julgar causas em tramitação perante quaisquer juízos ou Tribunais do país, a pedido do Procurador-Geral da República, “quando decorrer imediato perigo de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou às finanças públicas, para que se suspendam os efeitos de decisão proferida e para que o conhecimento integral da lide lhe seja devolvido.”
É curioso notar que a “avocação” de processos era uma possibilidade de ação jurisdicional no âmbito da própria reclamação, à teor do inciso II do art. 2º da Emenda Regimental de 1957. Há motivos para se afirmar, portanto, que a reclamação e a avocatória tiveram no passado uma razão comum de criação.
Cumpre observar que o reconhecimento da legitimidade da reclamação perante o STF se dava, nesse período pré-1988, por vias indiretas, a partir do reconhecimento do poder normativo processual do Tribunal por meio de previsão constitucional. Não se tinha ainda, entretanto, a consagração específica da reclamação constitucional como uma típica ação constitucional, com seu lócus no texto da Constituição, explicitamente.
Conclusão da Primeira Fase de Desenvolvimento
É importante aqui fixar as linhas gerais da reclamação constitucional nessa primeira fase de desenvolvimento, de forma a evitar anacronismos dos juristas e estudiosos que se acostumaram a estudar e manejar tal instrumento a partir de um determinado formato.
A reclamação constitucional foi instituída como uma espécie de “consectário” do próprio regime de autogoverno do Supremo Tribunal Federal. Sua natureza, portanto, estava mais próxima de uma iniciativa para que se obtivesse uma decisão administrativa que resultava na identificação desta que descumpria julgado do STF e em uma subsequente decisão de “fazer cumprir” tal julgado. Não tinha caráter, por assim dizer, institucional. A autoridade do julgado do Tribunal era buscada a partir da iniciativa do Procurador-Geral da República, nos casos mais importantes, e dos interessados nos casos comezinhos.
Os interessados, na terminologia da Emenda Regimental de 1957, eram entendidos como “as partes” do julgado do STF, o que agregava à reclamação eficácia restrita à demanda concreta, o que não era nada estranho, dada à virtual quase inexistência de um modelo de controle concentrado. A autoridade do Tribunal, portanto, era vista em sua dimensão subjetiva, específica, relacionada a um litígio jurisdicional identificável. Não se falava em autoridade do julgamento como a garantia de observância de uma tese fixada ou de uma orientação jurídica ampla estabelecida pelo Tribunal.
NOVA FASE: A TRANSIÇÃO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PARA INSTRUMENTO DO REGIME DO CONTROLE CONCENTRADO
O novo paradigma com a Constituição de 1988
A reclamação constitucional passou, depois dessa primeira fase, por período de transição processual, jurisdicional e institucional marcada por dois movimentos evolutivos complementares e integrados: de instrumento regimental e interno do STF para típica ação constitucional (primeiro movimento) e de mecanismo de defesa dos efeitos intersubjetivos de específico julgamento do STF para instrumento de proteção ampla do efeito vinculante de uma determinada tese firmada pelo Tribunal (segundo movimento).
Esses dois movimentos se iniciaram com a promulgação da Constituição de 1988 e a previsão do art. 102, I, “l” que passou a dispor expressamente da “reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões”. De igual modo, o Texto Constitucional também previu o novo instituto para o STJ, por conta do art. 105, I, “f”2. Os dispositivos da Constituição de 1988, de outra parte, passaram a marcar a definição do caráter jurisdicional da reclamação, afastando-se sua incidência para temas administrativos ou mesmo esclarecendo não se tratar de medida assemelhada à correição parcial. Na doutrina, ganhou corpo, nesse período, intenso debate acerca da “natureza jurídica” do instituto em virtude de sua nova configuração constitucional.
A reclamação ingressou, dessa forma, no novo paradigma constitucional, tendo uma definição mais clara quanto à sua aplicação e base normativa. Seu objeto e sua função, entretanto, ainda passaria por período de maturação jurisdicional, uma vez que, embora o art. 102, I, “l” e o art. 105, I, “f”, falassem em “preservação de competência” e “garantia de autoridade de suas decisões”, o fato é que seu cabimento sempre inspirou debates, especialmente na prática da jurisdição constitucional.
De fato, a Constituição de 1988 implementou mudança estrutural na prática da referida jurisdição constitucional, especialmente diante da recém abertura do sistema para as ações do controle de constitucionalidade, agora com ampla legitimidade de propositura (art. 103 da CF). As decisões em ADIns certamente se mostravam diferentes daqueles julgados do STF que resolviam problema específicos e concretos. Caberia reclamação constitucional para fazer valer tais decisões também? Se sim, quem seria os “interessados” para a propositura da reclamação, considerando que os efeitos dos julgamentos em ADIns são gerais e objetivos (erga omnes)?
Cabimento da Reclamação para preservar a autoridade de julgado em ADI: desafios da jurisprudência constitucional
Essa questão que envolvia fundamentalmente a própria transição do nosso modelo constitucional para um de primazia do controle concentrado de constitucionalidade, teve na reclamação constitucional um dos seus principais “palcos”.
No início, o STF não admitia a reclamação nesses casos, muito em virtude da estranheza do seu uso para esse tipo de decisão (veja-se, por exemplo, RCL nº 208, relator Ministro Moreira Alves; RCL-QO nº 235, relator Ministro Néri da Silveira; RCL nº 224, relator Ministro Célio Borja; RCL-QO nº 385, relator Ministro Celso de Mello). O argumento era de que as ações do controle abstrato de leis e atos normativos não se propunha à tutela jurisdicional de direitos e interesses subjetivos.
Em um segundo momento, aplicando o formato anterior à Constituição de 1988, o Tribunal passou a admitir a reclamação desde que proposta por algum legitimado para o ajuizamento da ação direita de inconstitucionalidade (RCL-QO nº 397, Ministro Celso de Mello; RCL nº 399, relator Ministro Sepúlveda Pertence), como se tais “legitimados” do elenco do art. 103 da CF fossem efetivamente as “partes” do processo objetivo da ADI. Relevante para essa evolução foi perceber que também as decisões do STF em sede de ADIns estariam sendo desrespeitadas. Apesar da proibição jurisprudencial:
“Coloca-se, contudo, a questão da conveniência de que se atenue o rigor dessa vedação jurisprudencial, notadamente em face da notória insubmissão de alguns Tribunais judiciários as teses jurídicas consagradas nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em ações diretas de inconstitucionalidade.” (ementa da RCL-QO nº 397)
Está-se claramente diante do exercício prático da jurisdição constitucional que nesses primeiros anos após a Constituição de 1988 “tateia” o novo modelo, experimenta novas saídas, tenta evoluir na sua interpretação, aqui se utilizando da reclamação como plataforma.
A Reclamação Constitucional e a criação da ADC
Nesse contexto, a Emenda Constitucional nº 3, de 17.03.1993, trouxe uma nova fase ao criar a “ação declaratória de constitucionalidade” e, ao incluir o § 2º ao art. 102 da CF, fixou que suas decisões “produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante”.
A eficácia erga omnes (eficácia contra todos) é efeito natural nas ações do controle concentrado. Porém, o que é o “efeito vinculante”? O STF respondeu a essa questão no julgamento da ADC-QO nº 1, de relatoria do Ministro Moreira Alves, nos seguintes termos:
“………………………………………….
É um plus com relação à ação de inconstitucionalidade, graças ao qual se dá ao novo instrumento de controle de constitucionalidade a eficácia necessária pera enfrentar o problema – como salientado anteriormente – que deu margem à sua criação. De feito, se a eficácia erga omnes que também possuem suas decisões de mérito lhe dá a mesma eficácia que têm as decisões de mérito das ações diretas de inconstitucionalidade (e – note-se – é em virtude dessa eficácia erga omnes que esta Corte, por ser alcançada igualmente por ela, não pode voltar atrás na declaração que nela fez anteriormente), do efeito vinculante que lhe é próprio resulta:
a) se os demais órgãos do poder Judiciário, nos casos concretos sob o seu julgamento não respeitarem a decisão prolatada nessa ação, a parte prejudicada poderá valer-se do instituto da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, a fim de que este garanta a autoridade dessa decisão; e
b) essa decisão (e isso restringe ao dispositivo dela, não abrangendo – como sucede na Alemanha – os seus fundamentos determinantes, até porque a Emenda Constitucional n. 3 só atribui efeito vinculante à própria decisão definitiva de mérito), essa decisão, repito, alcança os atos normativos de igual conteúdo daquele que deu origem a ela mas que não foi seu objeto, para o fim de, independentemente de nova ação, serem tidos como constitucionais ou inconstitucionais, adstrita essa eficácia aos atos normativos emanados dos demais órgãos do Poder Judiciário e do Poder Executivo, uma vez que ela não alcança os atos editados pelo Poder Legislativo.
……………………………………………..”
Assim, segundo a posição do STF, a “eficácia vinculante”, conceito novo trazido pela EC nº 3/93, significava a possibilidade de propositura de reclamação constitucional ao STF por qualquer “parte prejudicada”, acaso diante de decisão do Poder Judiciário que afastava a aplicação de lei já declarada constitucional pelo STF em sede de ADC.
Com isso, a reclamação constitucional se ligou indelevelmente à eficácia vinculante, tornando-se quase que um sinônimo do outro na jurisdição constitucional, uma conexão que se mostrou decisiva para as fases posteriores de evolução da reclamação.
É por conta dessa decisão que o STF viu a primeira “explosão” de reclamações constitucionais a partir de 1998 (especialmente no ano de 2000) e do julgamento da ADC nº 4 MC, de relatoria do Ministro Sydney Sanches, com a declaração de constitucionalidade do art. 1º da Lei nº 9.494, de 10.09.1997 (tutela antecipada contra a Fazenda Pública), talvez uma das decisões do STF mais questionadas do Tribunal e que mais serviu de paradigma para reclamações.
O Tribunal ainda enfrentaria o debate quanto à ambivalência da ADC e da ADI (“ações com sinais trocados”) que resultou, finalmente, na extensão do “efeito vinculante” da ADC para a ADI, especialmente após a promulgação da Lei nº 9.868, de 10.11.1999 (art. 28, parágrafo único).
O reconhecimento da presença do “efeito vinculante” também para a ADI levou o Tribunal a reconhecer o amplo cabimento da reclamação constitucional também para preservar as decisões tomadas no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade e podendo ser proposta por todos aqueles que comprovarem prejuízo advindo de decisões do Poder Judiciário contrárias ao julgamento paradigma do STF (RCL nº 1.880, AgR-QO, relator Ministro Maurício Corrêa). A Emenda Constitucional nº 45, de 30.12.2004, consolidou em definitivo esse entendimento.
A vinculação da Reclamação Constitucional ao “efeito vinculante” e a ampliação do seu uso
Parece indubitável que a história recente da reclamação constitucional é uma história de adaptação a um modelo de prática jurisdicional que se dirige à primazia do controle concentrado de constitucionalidade.
Sendo a reclamação constitucional o principal efeito da “eficácia vinculante”, conforme a posição do STF, é lógico concluir que o crescimento no uso do instituto se associou ao próprio crescimento das ações de controle concentrado, primeiramente por meio da ADC (após a EC nº 3/93), depois por extensão à ADI (Lei nº 9.868/99) e, finalmente, com a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF (art. 10, § 3º, da Lei nº 9.882, de 03.12.1999).
Por outro lado, é importante destacar que o próprio tema da “eficácia vinculante” também vivenciou evolução próprio no ordenamento jurídico, de forma que sua extensão para outras decisões do STF (súmulas vinculantes e processos do regime de repercussão geral da questão constitucional) também ajudou a alavancar o uso da reclamação constitucional.
O uso da reclamação para a defesa da atuação do STF em casos com eficácia vinculante fez o instituto ganhar em abrangência, em importância institucional e, assim, alterou a sua própria função dentro do sistema.
Momento marcante para essa mudança de utilidade foi a aprovação da Emenda Constitucional nº 45, de 30.12.2004, quando, com o novo art. 103-A, § 3º, da Constituição, a reclamação foi explicitamente prevista para garantir o respeito e a boa aplicação de súmula por decisões judiciais e atos administrativos. A reclamação constitucional, assim, se ligou ainda mais ao “efeito vinculante” (art. 103-A, caput, da Constituição). O uso da reclamação se ampliou enormemente a partir dessa mudança de regime quanto ao seu cabimento.
Pelos números da Secretaria Judiciária, entre 1990 e 1997, o STF passou de 20 reclamações por ano para 62 reclamações. O número de reclamações, de fato, aumentou nos anos subsequentes: 275 em 1998, 200 em 1999, 522 em 2000, 228 em 2001, 202 em 2002, 275 em 2003 e 491 em 2004. Excluindo-se, portanto, os anos de 2000 e 2004 (que apresentaram picos), a média de reclamações antes de 2005 era entre 200 e 250 por ano.
Em 2005, entretanto, esse número saltou para 976, marcando o início de fase de grande uso do instrumento. O número aumentaria com o passar dos anos e com a multiplicação dos julgamentos do STF com eficácia vinculante, seja na via do controle concentrado de constitucionalidade, seja na via da súmula vinculante.
Pelo regime constitucional-processual, detêm efeito vinculante as ações diretas de inconstitucionalidade, as ações declaratórias de constitucionalidade (art. 102, § 2º, da CF), a arguição de descumprimento de preceito fundamental (art. 10, § 3º, da Lei nº 9.882/99) e a aprovação de súmulas (art. 103-A da CF e art. 2º e seguintes da Lei nº 11.417, de 19.12.2006). Os processos do regime de repercussão geral da questão constitucional (art. 102, § 3º, da CF e Lei nº 11.418, de 19.12.2006) inicialmente não eram julgados como se se tivessem efeito vinculante. Em razão disso, o STF passou a adotar a prática de estabelecer enunciado sumular a cada um dos julgados em sede de regime de repercussão geral da questão constitucional, o que lhes atribuiu, por consequência, o efeito vinculante por conta do que previsto no art. 103-A da CF (art. 354-E do Regimento Interno do STF, após a Emenda Regimental nº 46, de 06.07.2011).
O Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16.03.2015) consolidou essa sistemática, especialmente ao regular, no plano legal, o instituto da reclamação e prever, no art. 988, III, o seu cabimento para “garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”, no que se refere especificamente à reclamação constitucional.
Números da Reclamação Constitucional
O uso da reclamação cresceu nesses anos na medida em que se ampliou os julgamentos no STF de ações de controle concentrado de constitucionalidade (ADI, ADC e ADPF) e o estabelecimento de súmulas vinculantes a partir de julgamentos plenários (especialmente aqueles julgamentos de processos afetados ao regime de repercussão geral da questão constitucional).
Seguindo os números anteriormente indicados, em 2006 foram 848 reclamações recebidas no Tribunal; em 2009 já foram 2.262, em 2015 foram 3.273; em 2019 foram 5.789; em 2020 foram 6.576. Nesse mesmo período o STF experimentou crescimento no acervo de todas as ações do controle concentrado, embora com um dado curioso. As ADIns (ADI e ADO) e ADCs apresentaram crescimento modesto. A ADPF, no entanto, apresentou aumento desproporcional: em 2006 eram 57; em 2014 foram 158; em 2021 já eram 310.
O mesmo fenômeno se observou nos processos de repercussão geral. Segundo os dados do STF, em 2008 foram 25 julgamentos de mérito, chegando em 2020 com 135 julgamentos de mérito. Para esse “tipo” processual, a evolução foi irregular, com dados apresentando altos e baixos a cada ano. Entretanto, para fins de avaliação do uso da reclamação constitucional, esses dados referentes às ações do controle concentrado e dos processos de repercussão geral (RG) precisam ser avaliados em somatório, uma vez que é possível o ajuizamento de reclamação hoje para fazer valer uma súmula ou enunciado de RG julgado e decidido em 2014, 2015 ou em 2018. Assim, o panorama de análise geral é formado principalmente por (a) 550 temas de RG julgados no total pelo STF, (b) 2.144 decisões finais em ADIns (e 1.649 decisões liminares) e (c) 453 decisões finais em ADPF (e 276 decisões liminares).
Tais números representam o “horizonte de eventos” em matéria de reclamações constitucionais, ou seja, o número de paradigmas constitucionais cujo descumprimento por qualquer decisão judicial do Brasil ensejaria o ajuizamento de reclamação constitucional.
Hoje o STF apresenta 3.187 reclamações em tramitação (segundo dados do final de dezembro de 20233) de um total de 62.801 recebidas ao longo de sua história, perfazendo 100.473 decisões. Desse total de decisões, 31.727 foram pela negativa de seguimento; 16.397 reclamações julgadas procedentes; 1.802 julgadas parcialmente procedentes e 2.816 julgadas improcedentes (as demais são decisões de prejuízo, de extinção, não conhecimento, etc.). O quadro abaixo traz um cenário mais claro quanto à evolução do uso do instituto da reclamação:
| Reclamações | Recebidas pelo STF | Baixadas (julgadas) |
| 2023 | 7.129 | 6.912 |
| 2022 | 6.242 | 6.107 |
| 2021 | 5.882 | 6.548 |
| 2020 | 6.576 | 6.841 |
| 2019 | 5.789 | 5.146 |
| 2018 | 3.467 | 3.604 |
| 2017 | 3.326 | 2.974 |
| 2016 | 3.283 | 3.069 |
| 2015 | 3.273 | 3.694 |
| 2014 | 2.375 | 2813 |
| 2013 | 1.894 | 2.211 |
| 2012 | 1.895 | 1.149 |
| 2011 | 1.856 | 1.435 |
| 2010 | 1.301 | 1.385 |
É visível o dramático crescimento no uso das reclamações constitucionais nos últimos anos, especialmente a partir de 2015. A partir de 2019 houve outro salto relevante no número de reclamações.
NOVA FUNÇÃO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL
A reclamação constitucional como instrumento complementar ao regime do controle concentrado e aos casos de repercussão geral, tal como ensaiado nas sucessivas alterações constitucionais e legais, explica, de fato, o aumento do seu uso. Entretanto, não explica a medida exponencial desse aumento. Para isso, é necessário a identificação de um novo componente, mais subjetivo.
E esse outro componente pode ser verificado no tipo de decisão que o STF passou a proferir nas ações do controle concentrado, bem como nos processos de repercussão geral. Refiro-me à natureza aberta e aditiva dessas decisões.
Os acórdãos do STF com o atributo de “efeito vinculante” passaram a ter um sentido mais regulatório e normativo, por meio do qual o Tribunal estabelece, não uma decisão simples de inconstitucionalidade do tipo “o dispositivo X da Lei A é inconstitucional”, mas sim uma decisão com a fixação de regras, orientações de aplicação, regimes, formas de interpretação, exceções, parâmetros principiológicos etc.
Para todos os efeitos, são acórdãos aditivos e ativistas que, por serem construtivos, não estabelecem limites claros de aplicação. Em outras palavras, as decisões do STF ganharam em complexidade e no estabelecimento de variáveis, bem como ganhou-se em tom diretivo e normativo. Tais julgados, cujo sentido não é objetivo e claro, continuam a ter “efeito vinculante”.
Esse fenômeno é ainda mais característico nas ADPFs, embora seja também marcante entre as decisões em ADI, ADC e nos julgamentos de RG.
Para essas situações, há dúvidas em relação a se uma decisão do Poder Judiciário cumpre o seu conteúdo ou a desrespeita. O próprio caráter aberto dessas manifestações do Tribunal abre essa possiblidade. A reclamação constitucional, nesse contexto, passa a ser o instrumento jurisdicional para obter uma resposta a essa dúvida, no âmbito da qual as partes, projetando as suas próprias posições jurídicas no processo original, articulam os seus próprios argumentos com base na linguagem do “cumprimento” ou “descumprimento” da decisão do STF.
Do ponto de vista da parte interessada, a reclamação constitucional se transforma em um “terceiro tempo” de decisão do processo original. Já do ponto de vista do STF, a reclamação constitucional se convola em oportunidade de agregar mais uma camada de sentido ao julgamento paradigma, tendo-lhe de dar mais concretude e objetividade.
Em outras palavras, a decisão final da reclamação constitucional, ao estabelecer que a decisão reclamada observa ou não a decisão paradigma do STF, acaba por integrar esta, em um processo de composição de significado.
Os julgamentos em reclamações constitucionais nesses últimos anos, portanto, tem servido principalmente para estabelecer a extensão e o limite da decisão paradigma do STF tomada em ação do controle concentrado ou em recurso de RG, identificando as hipóteses examinadas no Poder Judiciário que estão abrangidas ou não pelo acórdão do Tribunal com eficácia vinculante.
Nesses últimos dois anos esse fenômeno se agudizou e se tornou notório o aumento do número de reclamações constitucional a partir do mesmo paradigma da jurisprudência do STF. A decisão do STF na ADPF nº 828, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (suspensão dos despejos e das integrações de posse durante o período de pandemia), é um exemplo nítido de um julgamento aberto e normativo do plenário que vem ganhando sentido e concretude a partir das diversas reclamações ajuizadas e que, alegando descumprimento, acabam por identificar situações que se incluem ou não no precedente do tribunal.
Entretanto, talvez o caso mais emblemático tenha sido o conjunto relevante de reclamações constitucionais propostas que alegam descumprimento da decisão do STF tomada na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (RG) em 2018 e que tratou da constitucionalidade da figura da terceirização. As decisões do STF nas reclamações constitucionais ampliaram o sentido do julgamento do Tribunal e redefiniram os seus parâmetros de tal forma a ponto de gerar uma tensão institucional entre o próprio Tribunal e a Justiça do Trabalho.
CONCLUSÃO
O estudo da história de desenvolvimento da reclamação constitucional demonstra se tratar de instrumento processual multifacetado, maleável e que se adaptou ao longo do tempo e se adaptou às novas demandas e interesses que se apresentavam.
Nascida da necessidade do STF de garantir a própria autoridade jurisdicional como forma de assegurar a força de um julgado intersubjetivo, hoje, como se viu, a reclamação constitucional apresenta uma função mais substancial e orgânica, uma vez que se presta à integração e complementação das decisões do Tribunal que se apresentaram mais abertas e aditivas.
Sua vinculação estrita ao atributo do “efeito vinculante” – que é próprio das decisões do STF no âmbito de ações do controle concentrado de constitucionalidade e das súmulas -, fez crescer o seu uso e sua função no sistema e se amarrar intimamente à própria prática da jurisdição constitucional, de forma que, para alguns acórdãos do Tribunal, o julgamento de reclamações constitucionais passou a ser uma necessidade na via de um tipo de ação que permite ao próprio STF reavaliar o seu julgado e restabelecer quiçá novos parâmetros para a compreensão e aplicação de sua decisão.
Com isso em foco, a reclamação constitucional passou a ser uma ação fundamental em qualquer estratégia de atuação contenciosa, uma vez que é difícil imaginar que um processo em tramitação no Poder Judiciário não trate, direta ou indiretamente, de algum assunto já julgado pelo STF nos 550 temas de repercussão geral já decididos; nas 2.144 decisões finais em ADIns e nas 543 decisões finais em ADPFs. Conhecer essa história da reclamação constitucional ajuda a entender os rumos que estão sendo tomados agora pela jurisdição constitucional na defesa das teses que fixa e ajuda a catalisar eventuais resultados jurisdicionais, especialmente nessa nova dimensão de ação complementar e integrativa às decisões abertas e aditivas do Supremo Tribunal Federal.
[1] Ata da Trigésima Sessão, em 2 de outubro de 1957, publicado no Diário de Justiça de 3 de outubro de 1957, quinta-feira, pág. 12642;
[2] Anos mais tarde, a Emenda Constitucional nº 92, de 12.07.2016, veio a estender a figura da reclamação para a defesa da jurisprudência e autoridade das decisões do Tribunal Superior do Trabalho (TST) (novo art. 111-A, § 3º, da CF).
[3] https://transparencia.stf.jus.br/extensions/reclamacoes/reclamacoes.html O estudo da gênese da reclamação constitucional pode bem servir como um parâmetro de análise do progresso da própria jurisdição constitucional no Brasil.
Sua dinâmica de desenvolvimento foi marcada por uma espécie de “construção” a partir de várias aplicações e com base em previsões normativas (nem sempre precisas), além dos julgados do Supremo Tribunal Federal. Esse desenvolvimento caótico tornou a reclamação constitucional um instrumento mais maleável e à mercê da resolução de problemas práticos imediatos, uma vez que nunca contou com um “estatuto”, ou seja, uma lei prévia que lhe disciplinasse formalmente o funcionamento. Quando veio a lei, o instituto já estava consolidado e consagrado.
Mesmo hoje e após sua previsão na Constituição de 1988 (art. 102, I, “l”, da CF), seu “estatuto” somente se plasmou recentemente com os arts. 988 a 993 da Lei nº 13.105, de 16.03.2015 (Código de Processo Civil). Antes disso, a fonte primária de sua disciplina se encontrava no Regimento Interno do STF de 1980 (arts. 156 a 162), com alterações tópicas em 2001 (Emenda Regimental nº 9) e em 2004 (Emenda Regimental nº 13).
Esse fato evidencia uma tensão latente na própria autopoiese do instituto e que marcou o seu desenvolvimento: afinal, a reclamação constitucional é uma “criatura” própria do STF, disciplinada por regimento interno e vocacionada a resolver os problemas próprios da jurisdição constitucional, ou, ao contrário, é um instrumento do nosso sistema processual, regulado por lei formal e tendente a ser adotada por qualquer tribunal do país?
Por outro lado, a reclamação constitucional transitou, ao longo de seu crescimento, entre modelos bem definidos: de mecanismo vinculado aos processos subjetivos até instrumento a serviço do controle concentrado de constitucionalidade; de veículo de defesa da autoridade da jurisdição constitucional para meio de definição da extensão de suas próprias decisões.
A análise do passado e o do presente desse instituto revela, em rigor, um claro sincretismo dessas posições, uma forma de fusão de horizontes que destaca sua característica bivalente. Desse desenvolvimento pouco linear, surge modernamente uma nova função da reclamação constitucional.
BREVE HISTÓRICO DO SEU INÍCIO
A “criação” da Reclamação Constitucional
A criação do referido instituto no Brasil se deu pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e está associada à aplicação da ideia dos “implied powers” (a teoria dos poderes implícitos) utilizada pela primeira vez pela Suprema Corte Americana no caso McCulloch v. Maryland (17 U.S. 316 (1819)). Nessa linha, já afirmava o Ministro Rocha Lagoa, no julgamento da RCL nº 141, de 1952 (DJ 25.01.1952): “A criação dum remédio de direito para vindicar o cumprimento fiel das suas sentenças, está na vocação do Supremo Tribunal Federal e na amplitude constitucional e natural de seus poderes. Necessária e legítima é assim a admissão do processo de Reclamação, como o Supremo Tribunal tem feito.” De fato, a reclamação, desde cedo, fez parte da competência autoatribuída pelo STF, tendo sido julgado o primeiro caso ainda em 1891.
Cumpre observar, portanto, que a existência da reclamação como instrumento de defesa da autoridade do Tribunal está ligada, desde o início, à premissa de autogoverno, de autoadministração e de autogestão de uma Suprema Corte. Ao se tratar do tribunal de mais alta estatura no modelo político-institucional – em relação ao qual não há recurso cabível de suas decisões – é necessário que a Corte mesma tenha os instrumentos capazes de fazer valer suas próprias decisões.
Trata-se, assim, de um consectário natural e típico do Órgão de Cúpula do Poder Judiciário e, por isso, vincula-se excepcionalmente à dimensão político-constitucional das atribuições de uma Suprema Corte. Foi nessa linha que a reclamação foi criada e utilizada nos 60 primeiros anos do Supremo Tribunal Federal: como uma extensão “processual” dos seus “poderes implícitos”.
Reclamação Constitucional e Regimento Interno
Paralelamente a esse desenvolvimento administrativo e “jurisprudencial” do instituto, ocorreu novidade com a promulgação da Constituição de 1934: pela primeira vez a Constituição atribuía aos Tribunais o poder de “elaborar os seus regimentos internos” (art. 67, “a”). Antes disso, o termo “regimento interno” se referia às regras próprias de funcionamento das Casas Legislativas e sua importância estava no fato de que seu conteúdo definia um âmbito temático defeso de controle jurisdicional. A jurisprudência da matéria “interna corporis” era o reconhecimento definitivo da importância política dos regimentos internos do Poder Legislativo. Esse conceito foi estendido em 1934, no que se tornou uma tradição constitucional brasileira: a garantia do poder de autogoverno dos tribunais a gerar a competência de elaborar suas próprias regras internas (art. 93, “a”, Constituição de 1937; art. 97, II, Constituição de 1946; art. 110, II, Constituição de 1967; art. 115, III, da EC nº 01/69; art. 96, I, “a”, da Constituição de 1988).
Em 02.10.1957, o instituto da reclamação foi formalmente previsto pela primeira vez em ato normativo, por meio de sua incorporação ao Regimento Interno do STF, a partir de proposta de inclusão do então Ministro Ribeiro da Costa. Pela relevância, vale a transcrição dos dois primeiros artigos daquela emenda regimental[1]:
Capítulo V-A da Reclamação
Art. 1º O Supremo Tribunal Federal poderá admitir reclamação do Procurador-Geral da República ou de interessado na causa, a fim de preservar a integridade de sua competência ou assegurar a autoridade de seu julgamento.
Art. 2º Ao Tribunal competirá, se necessário:
I – Avocar o reconhecimento de processo em que se verifique manifesta usurpação de sua competência, ou desrespeito de decisão que haja proferido;
II – Determinar lhe sejam enviados os autos de recurso para ele interposto e cuja remessa esteja sendo indevidamente retardada.
Na “Justificação” da emenda regimental, assim encaminhou o tema o Ministro Ribeiro da Costa precisando, no seu entender, a natureza jurídica da reclamação:
“A medida processual de caráter acentuadamente disciplinar e correcional, denominada reclamação, embora não prevista, de modo expresso, no art. 101, n.º I a IV, da Constituição Federal, tem sido admitida pelo Supremo Tribunal Federal, em várias oportunidades, exercendo-se, nesses casos, sua função corregedora, a fim de salvaguardar a extensão e os efeitos de seus julgados, em cumprimento dos quais se avocou legítima e oportuna intervenção.
A medida da reclamação compreende a faculdade cometida nos órgãos do Poder Judiciário para, em processo especial, corrigir excessos, abusos e irregularidades derivados de atos de autoridades judiciárias, ou de serventuários que lhe sejam subordinados. Visa a manter sua inteireza e plenitude o prestígio da autoridade, a supremacia da lei, a ordem processual e a força da coisa julgada.
É, sem dúvida, a reclamação meio idôneo para obviar os efeitos de atos de autoridades, administrativas ou judiciárias, que, pelas circunstâncias excepcionais, de que se revestem, exigem a pronta aplicação de corretivo, enérgico, imediato e eficaz que impeça a prossecução de violência ou atentado à ordem jurídica.
Assim, a proposição em apreço entende com a atribuição concedida a este Tribunal pelo art. 97, nº II, da Carta Magna, e vem suprir omissão contida no seu Regimento Interno.”
Como se vê, o entendimento de época era de que o “novo” instituto encontrava a sua sedes materiae na Constituição de 1946, no ponto em que o texto previa justamente o poder do STF de elaborar seu regimento interno (art. 97, II), atribuindo-lhe formalmente a capacidade institucional de auto-organização (embora já fosse tranquilo na doutrina que essa atribuição advinha, não de previsão constitucional, mas da própria natureza do Tribunal) e de defesa, por seus meios, de sua autoridade jurisdicional.
É importante destacar também que nesse período não se tinha estabelecido o debate acerca da diferenciação clara entre “procedimento” e “processo”, de forma que a tal autonomia de elaboração do regimento interno dos tribunais, exercida com grande destaque pelo STF, resvalava na efetiva “criação” de institutos processuais, à margem da lei (no caso o Código de Processo Civil de 1939, instituído pelo Decreto-Lei nº 1.608, de 18.09.1939). Note-se, nesse sentido, que, na linha da justificativa do Ministro Ribeiro da Costa, a reclamação estaria localizada topograficamente no limiar entre temas jurisdicionais e administrativos já que também poderia ser dirigida contra serventuários e autoridades administrativas.
Reforçava-se essa autonomia do STF em uma longa tradição histórica: quando da sua instalação o STF já aprovara o seu primeiro Regimento Interno em 08.08.1891. A partir dali outros 4 foram aprovados: o Regimento Interno de 1909, o Regimento Interno de 1940, o Regimento Interno de 1970 e o Regimento Interno de 1980 (atual).
Competência “Legislativa” do STF
Com a promulgação da Constituição de 1967, tem-se novo capítulo para a reclamação, uma vez que o seu art. 115, parágrafo único, “c” estabeleceu, especificamente para o STF, que o Regimento Interno “estabelecerá o processo e o julgamento dos feitos de sua competência originária ou de recurso.”
Ao Supremo Tribunal Federal era concedido, agora oficialmente, competência “legislativa” processual e, portanto, todas as previsões que constavam do seu Regimento Interno de 1940 (bem como do Regimento Interno, aprovado em 04.09.1970, e ainda aquelas do Regimento Interno de 1980) adquiriram, no que tange a processo no Tribunal, estatura de lei federal. A reclamação, assim, encontrava finalmente a sua base legal, por assim dizer. Esse regramento se manteve com a EC nº 01/69, com base no art. 120, parágrafo único, “c”.
O famoso “Pacote de Abril” do então Presidente Ernesto Geisel adicionou um novo elemento a todo esse contexto. A Emenda Constitucional nº 07, de 13.04.1977, reafirmou esse postulado da força de lei do Regimento Interno do STF, com a nova redação do art. 119, § 3º que igualmente fixava a competência do regimento interno para estabelecer “o processo e o julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal e da arguição de relevância da questão federal” tal como havia sido feito em 1967.
O ordenamento constitucional se dirigia, de fato, para garantir ao STF os instrumentos necessários à defesa de sua competência e de sua própria posição institucional na estrutura do Poder Judiciário. É por conta dessa mesma perspectiva que a EC nº 07/77 também criara o instituto da “avocatória” (nova alínea “o” do inciso I do art. 119 da Constituição de 1967/1969) ao atribuir ao Tribunal o poder de processar e julgar causas em tramitação perante quaisquer juízos ou Tribunais do país, a pedido do Procurador-Geral da República, “quando decorrer imediato perigo de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou às finanças públicas, para que se suspendam os efeitos de decisão proferida e para que o conhecimento integral da lide lhe seja devolvido.”
É curioso notar que a “avocação” de processos era uma possibilidade de ação jurisdicional no âmbito da própria reclamação, à teor do inciso II do art. 2º da Emenda Regimental de 1957. Há motivos para se afirmar, portanto, que a reclamação e a avocatória tiveram no passado uma razão comum de criação.
Cumpre observar que o reconhecimento da legitimidade da reclamação perante o STF se dava, nesse período pré-1988, por vias indiretas, a partir do reconhecimento do poder normativo processual do Tribunal por meio de previsão constitucional. Não se tinha ainda, entretanto, a consagração específica da reclamação constitucional como uma típica ação constitucional, com seu lócus no texto da Constituição, explicitamente.
Conclusão da Primeira Fase de Desenvolvimento
É importante aqui fixar as linhas gerais da reclamação constitucional nessa primeira fase de desenvolvimento, de forma a evitar anacronismos dos juristas e estudiosos que se acostumaram a estudar e manejar tal instrumento a partir de um determinado formato.
A reclamação constitucional foi instituída como uma espécie de “consectário” do próprio regime de autogoverno do Supremo Tribunal Federal. Sua natureza, portanto, estava mais próxima de uma iniciativa para que se obtivesse uma decisão administrativa que resultava na identificação desta que descumpria julgado do STF e em uma subsequente decisão de “fazer cumprir” tal julgado. Não tinha caráter, por assim dizer, institucional. A autoridade do julgado do Tribunal era buscada a partir da iniciativa do Procurador-Geral da República, nos casos mais importantes, e dos interessados nos casos comezinhos.
Os interessados, na terminologia da Emenda Regimental de 1957, eram entendidos como “as partes” do julgado do STF, o que agregava à reclamação eficácia restrita à demanda concreta, o que não era nada estranho, dada à virtual quase inexistência de um modelo de controle concentrado. A autoridade do Tribunal, portanto, era vista em sua dimensão subjetiva, específica, relacionada a um litígio jurisdicional identificável. Não se falava em autoridade do julgamento como a garantia de observância de uma tese fixada ou de uma orientação jurídica ampla estabelecida pelo Tribunal.
NOVA FASE: A TRANSIÇÃO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PARA INSTRUMENTO DO REGIME DO CONTROLE CONCENTRADO
O novo paradigma com a Constituição de 1988
A reclamação constitucional passou, depois dessa primeira fase, por período de transição processual, jurisdicional e institucional marcada por dois movimentos evolutivos complementares e integrados: de instrumento regimental e interno do STF para típica ação constitucional (primeiro movimento) e de mecanismo de defesa dos efeitos intersubjetivos de específico julgamento do STF para instrumento de proteção ampla do efeito vinculante de uma determinada tese firmada pelo Tribunal (segundo movimento).
Esses dois movimentos se iniciaram com a promulgação da Constituição de 1988 e a previsão do art. 102, I, “l” que passou a dispor expressamente da “reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões”. De igual modo, o Texto Constitucional também previu o novo instituto para o STJ, por conta do art. 105, I, “f”[2]. Os dispositivos da Constituição de 1988, de outra parte, passaram a marcar a definição do caráter jurisdicional da reclamação, afastando-se sua incidência para temas administrativos ou mesmo esclarecendo não se tratar de medida assemelhada à correição parcial. Na doutrina, ganhou corpo, nesse período, intenso debate acerca da “natureza jurídica” do instituto em virtude de sua nova configuração constitucional.
A reclamação ingressou, dessa forma, no novo paradigma constitucional, tendo uma definição mais clara quanto à sua aplicação e base normativa. Seu objeto e sua função, entretanto, ainda passaria por período de maturação jurisdicional, uma vez que, embora o art. 102, I, “l” e o art. 105, I, “f”, falassem em “preservação de competência” e “garantia de autoridade de suas decisões”, o fato é que seu cabimento sempre inspirou debates, especialmente na prática da jurisdição constitucional.
De fato, a Constituição de 1988 implementou mudança estrutural na prática da referida jurisdição constitucional, especialmente diante da recém abertura do sistema para as ações do controle de constitucionalidade, agora com ampla legitimidade de propositura (art. 103 da CF). As decisões em ADIns certamente se mostravam diferentes daqueles julgados do STF que resolviam problema específicos e concretos. Caberia reclamação constitucional para fazer valer tais decisões também? Se sim, quem seria os “interessados” para a propositura da reclamação, considerando que os efeitos dos julgamentos em ADIns são gerais e objetivos (erga omnes)?
Cabimento da Reclamação para preservar a autoridade de julgado em ADI: desafios da jurisprudência constitucional
Essa questão que envolvia fundamentalmente a própria transição do nosso modelo constitucional para um de primazia do controle concentrado de constitucionalidade, teve na reclamação constitucional um dos seus principais “palcos”.
No início, o STF não admitia a reclamação nesses casos, muito em virtude da estranheza do seu uso para esse tipo de decisão (veja-se, por exemplo, RCL nº 208, relator Ministro Moreira Alves; RCL-QO nº 235, relator Ministro Néri da Silveira; RCL nº 224, relator Ministro Célio Borja; RCL-QO nº 385, relator Ministro Celso de Mello). O argumento era de que as ações do controle abstrato de leis e atos normativos não se propunha à tutela jurisdicional de direitos e interesses subjetivos.
Em um segundo momento, aplicando o formato anterior à Constituição de 1988, o Tribunal passou a admitir a reclamação desde que proposta por algum legitimado para o ajuizamento da ação direita de inconstitucionalidade (RCL-QO nº 397, Ministro Celso de Mello; RCL nº 399, relator Ministro Sepúlveda Pertence), como se tais “legitimados” do elenco do art. 103 da CF fossem efetivamente as “partes” do processo objetivo da ADI. Relevante para essa evolução foi perceber que também as decisões do STF em sede de ADIns estariam sendo desrespeitadas. Apesar da proibição jurisprudencial:
“Coloca-se, contudo, a questão da conveniência de que se atenue o rigor dessa vedação jurisprudencial, notadamente em face da notória insubmissão de alguns Tribunais judiciários as teses jurídicas consagradas nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em ações diretas de inconstitucionalidade.” (ementa da RCL-QO nº 397)
Está-se claramente diante do exercício prático da jurisdição constitucional que nesses primeiros anos após a Constituição de 1988 “tateia” o novo modelo, experimenta novas saídas, tenta evoluir na sua interpretação, aqui se utilizando da reclamação como plataforma.
A Reclamação Constitucional e a criação da ADC
Nesse contexto, a Emenda Constitucional nº 3, de 17.03.1993, trouxe uma nova fase ao criar a “ação declaratória de constitucionalidade” e, ao incluir o § 2º ao art. 102 da CF, fixou que suas decisões “produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante”.
A eficácia erga omnes (eficácia contra todos) é efeito natural nas ações do controle concentrado. Porém, o que é o “efeito vinculante”? O STF respondeu a essa questão no julgamento da ADC-QO nº 1, de relatoria do Ministro Moreira Alves, nos seguintes termos:
“………………………………………….
É um plus com relação à ação de inconstitucionalidade, graças ao qual se dá ao novo instrumento de controle de constitucionalidade a eficácia necessária pera enfrentar o problema – como salientado anteriormente – que deu margem à sua criação. De feito, se a eficácia erga omnes que também possuem suas decisões de mérito lhe dá a mesma eficácia que têm as decisões de mérito das ações diretas de inconstitucionalidade (e – note-se – é em virtude dessa eficácia erga omnes que esta Corte, por ser alcançada igualmente por ela, não pode voltar atrás na declaração que nela fez anteriormente), do efeito vinculante que lhe é próprio resulta:
a) se os demais órgãos do poder Judiciário, nos casos concretos sob o seu julgamento não respeitarem a decisão prolatada nessa ação, a parte prejudicada poderá valer-se do instituto da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, a fim de que este garanta a autoridade dessa decisão; e
b) essa decisão (e isso restringe ao dispositivo dela, não abrangendo – como sucede na Alemanha – os seus fundamentos determinantes, até porque a Emenda Constitucional n. 3 só atribui efeito vinculante à própria decisão definitiva de mérito), essa decisão, repito, alcança os atos normativos de igual conteúdo daquele que deu origem a ela mas que não foi seu objeto, para o fim de, independentemente de nova ação, serem tidos como constitucionais ou inconstitucionais, adstrita essa eficácia aos atos normativos emanados dos demais órgãos do Poder Judiciário e do Poder Executivo, uma vez que ela não alcança os atos editados pelo Poder Legislativo.
……………………………………………..”
Assim, segundo a posição do STF, a “eficácia vinculante”, conceito novo trazido pela EC nº 3/93, significava a possibilidade de propositura de reclamação constitucional ao STF por qualquer “parte prejudicada”, acaso diante de decisão do Poder Judiciário que afastava a aplicação de lei já declarada constitucional pelo STF em sede de ADC.
Com isso, a reclamação constitucional se ligou indelevelmente à eficácia vinculante, tornando-se quase que um sinônimo do outro na jurisdição constitucional, uma conexão que se mostrou decisiva para as fases posteriores de evolução da reclamação.
É por conta dessa decisão que o STF viu a primeira “explosão” de reclamações constitucionais a partir de 1998 (especialmente no ano de 2000) e do julgamento da ADC nº 4 MC, de relatoria do Ministro Sydney Sanches, com a declaração de constitucionalidade do art. 1º da Lei nº 9.494, de 10.09.1997 (tutela antecipada contra a Fazenda Pública), talvez uma das decisões do STF mais questionadas do Tribunal e que mais serviu de paradigma para reclamações.
O Tribunal ainda enfrentaria o debate quanto à ambivalência da ADC e da ADI (“ações com sinais trocados”) que resultou, finalmente, na extensão do “efeito vinculante” da ADC para a ADI, especialmente após a promulgação da Lei nº 9.868, de 10.11.1999 (art. 28, parágrafo único).
O reconhecimento da presença do “efeito vinculante” também para a ADI levou o Tribunal a reconhecer o amplo cabimento da reclamação constitucional também para preservar as decisões tomadas no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade e podendo ser proposta por todos aqueles que comprovarem prejuízo advindo de decisões do Poder Judiciário contrárias ao julgamento paradigma do STF (RCL nº 1.880, AgR-QO, relator Ministro Maurício Corrêa). A Emenda Constitucional nº 45, de 30.12.2004, consolidou em definitivo esse entendimento.
A vinculação da Reclamação Constitucional ao “efeito vinculante” e a ampliação do seu uso
Parece indubitável que a história recente da reclamação constitucional é uma história de adaptação a um modelo de prática jurisdicional que se dirige à primazia do controle concentrado de constitucionalidade.
Sendo a reclamação constitucional o principal efeito da “eficácia vinculante”, conforme a posição do STF, é lógico concluir que o crescimento no uso do instituto se associou ao próprio crescimento das ações de controle concentrado, primeiramente por meio da ADC (após a EC nº 3/93), depois por extensão à ADI (Lei nº 9.868/99) e, finalmente, com a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF (art. 10, § 3º, da Lei nº 9.882, de 03.12.1999).
Por outro lado, é importante destacar que o próprio tema da “eficácia vinculante” também vivenciou evolução próprio no ordenamento jurídico, de forma que sua extensão para outras decisões do STF (súmulas vinculantes e processos do regime de repercussão geral da questão constitucional) também ajudou a alavancar o uso da reclamação constitucional.
O uso da reclamação para a defesa da atuação do STF em casos com eficácia vinculante fez o instituto ganhar em abrangência, em importância institucional e, assim, alterou a sua própria função dentro do sistema.
Momento marcante para essa mudança de utilidade foi a aprovação da Emenda Constitucional nº 45, de 30.12.2004, quando, com o novo art. 103-A, § 3º, da Constituição, a reclamação foi explicitamente prevista para garantir o respeito e a boa aplicação de súmula por decisões judiciais e atos administrativos. A reclamação constitucional, assim, se ligou ainda mais ao “efeito vinculante” (art. 103-A, caput, da Constituição). O uso da reclamação se ampliou enormemente a partir dessa mudança de regime quanto ao seu cabimento.
Pelos números da Secretaria Judiciária, entre 1990 e 1997, o STF passou de 20 reclamações por ano para 62 reclamações. O número de reclamações, de fato, aumentou nos anos subsequentes: 275 em 1998, 200 em 1999, 522 em 2000, 228 em 2001, 202 em 2002, 275 em 2003 e 491 em 2004. Excluindo-se, portanto, os anos de 2000 e 2004 (que apresentaram picos), a média de reclamações antes de 2005 era entre 200 e 250 por ano.
Em 2005, entretanto, esse número saltou para 976, marcando o início de fase de grande uso do instrumento. O número aumentaria com o passar dos anos e com a multiplicação dos julgamentos do STF com eficácia vinculante, seja na via do controle concentrado de constitucionalidade, seja na via da súmula vinculante.
Pelo regime constitucional-processual, detêm efeito vinculante as ações diretas de inconstitucionalidade, as ações declaratórias de constitucionalidade (art. 102, § 2º, da CF), a arguição de descumprimento de preceito fundamental (art. 10, § 3º, da Lei nº 9.882/99) e a aprovação de súmulas (art. 103-A da CF e art. 2º e seguintes da Lei nº 11.417, de 19.12.2006). Os processos do regime de repercussão geral da questão constitucional (art. 102, § 3º, da CF e Lei nº 11.418, de 19.12.2006) inicialmente não eram julgados como se se tivessem efeito vinculante. Em razão disso, o STF passou a adotar a prática de estabelecer enunciado sumular a cada um dos julgados em sede de regime de repercussão geral da questão constitucional, o que lhes atribuiu, por consequência, o efeito vinculante por conta do que previsto no art. 103-A da CF (art. 354-E do Regimento Interno do STF, após a Emenda Regimental nº 46, de 06.07.2011).
O Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16.03.2015) consolidou essa sistemática, especialmente ao regular, no plano legal, o instituto da reclamação e prever, no art. 988, III, o seu cabimento para “garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”, no que se refere especificamente à reclamação constitucional.
Números da Reclamação Constitucional
O uso da reclamação cresceu nesses anos na medida em que se ampliou os julgamentos no STF de ações de controle concentrado de constitucionalidade (ADI, ADC e ADPF) e o estabelecimento de súmulas vinculantes a partir de julgamentos plenários (especialmente aqueles julgamentos de processos afetados ao regime de repercussão geral da questão constitucional).
Seguindo os números anteriormente indicados, em 2006 foram 848 reclamações recebidas no Tribunal; em 2009 já foram 2.262, em 2015 foram 3.273; em 2019 foram 5.789; em 2020 foram 6.576. Nesse mesmo período o STF experimentou crescimento no acervo de todas as ações do controle concentrado, embora com um dado curioso. As ADIns (ADI e ADO) e ADCs apresentaram crescimento modesto. A ADPF, no entanto, apresentou aumento desproporcional: em 2006 eram 57; em 2014 foram 158; em 2021 já eram 310.
O mesmo fenômeno se observou nos processos de repercussão geral. Segundo os dados do STF, em 2008 foram 25 julgamentos de mérito, chegando em 2020 com 135 julgamentos de mérito. Para esse “tipo” processual, a evolução foi irregular, com dados apresentando altos e baixos a cada ano. Entretanto, para fins de avaliação do uso da reclamação constitucional, esses dados referentes às ações do controle concentrado e dos processos de repercussão geral (RG) precisam ser avaliados em somatório, uma vez que é possível o ajuizamento de reclamação hoje para fazer valer uma súmula ou enunciado de RG julgado e decidido em 2014, 2015 ou em 2018. Assim, o panorama de análise geral é formado principalmente por (a) 550 temas de RG julgados no total pelo STF, (b) 2.144 decisões finais em ADIns (e 1.649 decisões liminares) e (c) 453 decisões finais em ADPF (e 276 decisões liminares).
Tais números representam o “horizonte de eventos” em matéria de reclamações constitucionais, ou seja, o número de paradigmas constitucionais cujo descumprimento por qualquer decisão judicial do Brasil ensejaria o ajuizamento de reclamação constitucional.
Hoje o STF apresenta 3.187 reclamações em tramitação (segundo dados do final de dezembro de 2023[3]) de um total de 62.801 recebidas ao longo de sua história, perfazendo 100.473 decisões. Desse total de decisões, 31.727 foram pela negativa de seguimento; 16.397 reclamações julgadas procedentes; 1.802 julgadas parcialmente procedentes e 2.816 julgadas improcedentes (as demais são decisões de prejuízo, de extinção, não conhecimento, etc.). O quadro abaixo traz um cenário mais claro quanto à evolução do uso do instituto da reclamação:
| Reclamações | Recebidas pelo STF | Baixadas (julgadas) |
| 2023 | 7.129 | 6.912 |
| 2022 | 6.242 | 6.107 |
| 2021 | 5.882 | 6.548 |
| 2020 | 6.576 | 6.841 |
| 2019 | 5.789 | 5.146 |
| 2018 | 3.467 | 3.604 |
| 2017 | 3.326 | 2.974 |
| 2016 | 3.283 | 3.069 |
| 2015 | 3.273 | 3.694 |
| 2014 | 2.375 | 2813 |
| 2013 | 1.894 | 2.211 |
| 2012 | 1.895 | 1.149 |
| 2011 | 1.856 | 1.435 |
| 2010 | 1.301 | 1.385 |
É visível o dramático crescimento no uso das reclamações constitucionais nos últimos anos, especialmente a partir de 2015. A partir de 2019 houve outro salto relevante no número de reclamações.
NOVA FUNÇÃO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL
A reclamação constitucional como instrumento complementar ao regime do controle concentrado e aos casos de repercussão geral, tal como ensaiado nas sucessivas alterações constitucionais e legais, explica, de fato, o aumento do seu uso. Entretanto, não explica a medida exponencial desse aumento. Para isso, é necessário a identificação de um novo componente, mais subjetivo.
E esse outro componente pode ser verificado no tipo de decisão que o STF passou a proferir nas ações do controle concentrado, bem como nos processos de repercussão geral. Refiro-me à natureza aberta e aditiva dessas decisões.
Os acórdãos do STF com o atributo de “efeito vinculante” passaram a ter um sentido mais regulatório e normativo, por meio do qual o Tribunal estabelece, não uma decisão simples de inconstitucionalidade do tipo “o dispositivo X da Lei A é inconstitucional”, mas sim uma decisão com a fixação de regras, orientações de aplicação, regimes, formas de interpretação, exceções, parâmetros principiológicos etc.
Para todos os efeitos, são acórdãos aditivos e ativistas que, por serem construtivos, não estabelecem limites claros de aplicação. Em outras palavras, as decisões do STF ganharam em complexidade e no estabelecimento de variáveis, bem como ganhou-se em tom diretivo e normativo. Tais julgados, cujo sentido não é objetivo e claro, continuam a ter “efeito vinculante”.
Esse fenômeno é ainda mais característico nas ADPFs, embora seja também marcante entre as decisões em ADI, ADC e nos julgamentos de RG.
Para essas situações, há dúvidas em relação a se uma decisão do Poder Judiciário cumpre o seu conteúdo ou a desrespeita. O próprio caráter aberto dessas manifestações do Tribunal abre essa possibilidade. A reclamação constitucional, nesse contexto, passa a ser o instrumento jurisdicional para obter uma resposta a essa dúvida, no âmbito da qual as partes, projetando as suas próprias posições jurídicas no processo original, articulam os seus próprios argumentos com base na linguagem do “cumprimento” ou “descumprimento” da decisão do STF.
Do ponto de vista da parte interessada, a reclamação constitucional se transforma em um “terceiro tempo” de decisão do processo original. Já do ponto de vista do STF, a reclamação constitucional se convola em oportunidade de agregar mais uma camada de sentido ao julgamento paradigma, tendo-lhe de dar mais concretude e objetividade.
Em outras palavras, a decisão final da reclamação constitucional, ao estabelecer que a decisão reclamada observa ou não a decisão paradigma do STF, acaba por integrar esta, em um processo de composição de significado.
Os julgamentos em reclamações constitucionais nesses últimos anos, portanto, tem servido principalmente para estabelecer a extensão e o limite da decisão paradigma do STF tomada em ação do controle concentrado ou em recurso de RG, identificando as hipóteses examinadas no Poder Judiciário que estão abrangidas ou não pelo acórdão do Tribunal com eficácia vinculante.
Nesses últimos dois anos esse fenômeno se agudizou e se tornou notório o aumento do número de reclamações constitucional a partir do mesmo paradigma da jurisprudência do STF. A decisão do STF na ADPF nº 828, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (suspensão dos despejos e das integrações de posse durante o período de pandemia), é um exemplo nítido de um julgamento aberto e normativo do plenário que vem ganhando sentido e concretude a partir das diversas reclamações ajuizadas e que, alegando descumprimento, acabam por identificar situações que se incluem ou não no precedente do tribunal.
Entretanto, talvez o caso mais emblemático tenha sido o conjunto relevante de reclamações constitucionais propostas que alegam descumprimento da decisão do STF tomada na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (RG) em 2018 e que tratou da constitucionalidade da figura da terceirização. As decisões do STF nas reclamações constitucionais ampliaram o sentido do julgamento do Tribunal e redefiniram os seus parâmetros de tal forma a ponto de gerar uma tensão institucional entre o próprio Tribunal e a Justiça do Trabalho.
CONCLUSÃO
O estudo da história de desenvolvimento da reclamação constitucional demonstra se tratar de instrumento processual multifacetado, maleável e que se adaptou ao longo do tempo e se adaptou às novas demandas e interesses que se apresentavam.
Nascida da necessidade do STF de garantir a própria autoridade jurisdicional como forma de assegurar a força de um julgado intersubjetivo, hoje, como se viu, a reclamação constitucional apresenta uma função mais substancial e orgânica, uma vez que se presta à integração e complementação das decisões do Tribunal que se apresentaram mais abertas e aditivas.
Sua vinculação estrita ao atributo do “efeito vinculante” – que é próprio das decisões do STF no âmbito de ações do controle concentrado de constitucionalidade e das súmulas -, fez crescer o seu uso e sua função no sistema e se amarrar intimamente à própria prática da jurisdição constitucional, de forma que, para alguns acórdãos do Tribunal, o julgamento de reclamações constitucionais passou a ser uma necessidade na via de um tipo de ação que permite ao próprio STF reavaliar o seu julgado e restabelecer quiçá novos parâmetros para a compreensão e aplicação de sua decisão.
Com isso em foco, a reclamação constitucional passou a ser uma ação fundamental em qualquer estratégia de atuação contenciosa, uma vez que é difícil imaginar que um processo em tramitação no Poder Judiciário não trate, direta ou indiretamente, de algum assunto já julgado pelo STF nos 550 temas de repercussão geral já decididos; nas 2.144 decisões finais em ADIns e nas 543 decisões finais em ADPFs. Conhecer essa história da reclamação constitucional ajuda a entender os rumos que estão sendo tomados agora pela jurisdição constitucional na defesa das teses que fixa e ajuda a catalisar eventuais resultados jurisdicionais, especialmente nessa nova dimensão de ação complementar e integrativa às decisões abertas e aditivas do Supremo Tribunal Federal.
- Ata da Trigésima Sessão, em 2 de outubro de 1957, publicado no Diário de Justiça de 3 de outubro de 1957, quinta-feira, pág. 12642; ↩︎
- Anos mais tarde, a Emenda Constitucional nº 92, de 12.07.2016, veio a estender a figura da reclamação para a defesa da jurisprudência e autoridade das decisões do Tribunal Superior do Trabalho (TST) (novo art. 111-A, § 3º, da CF). ↩︎
- https://transparencia.stf.jus.br/extensions/reclamacoes/reclamacoes.html ↩︎