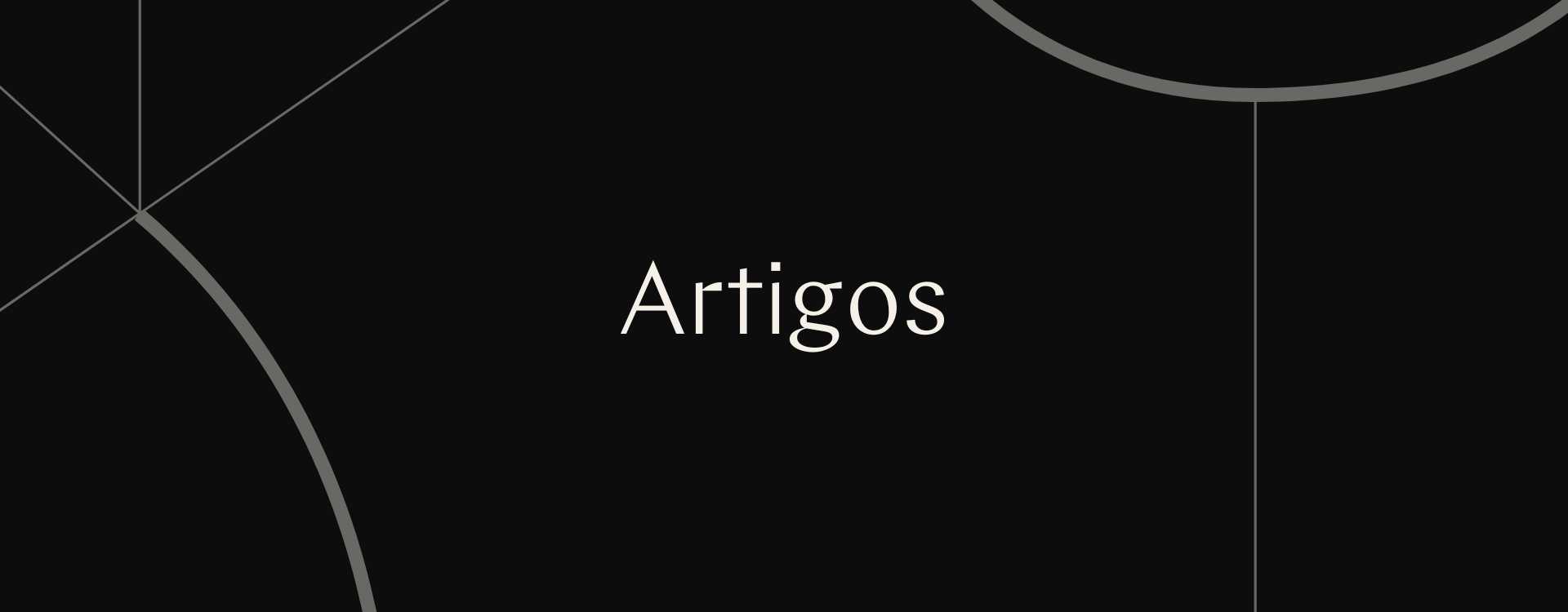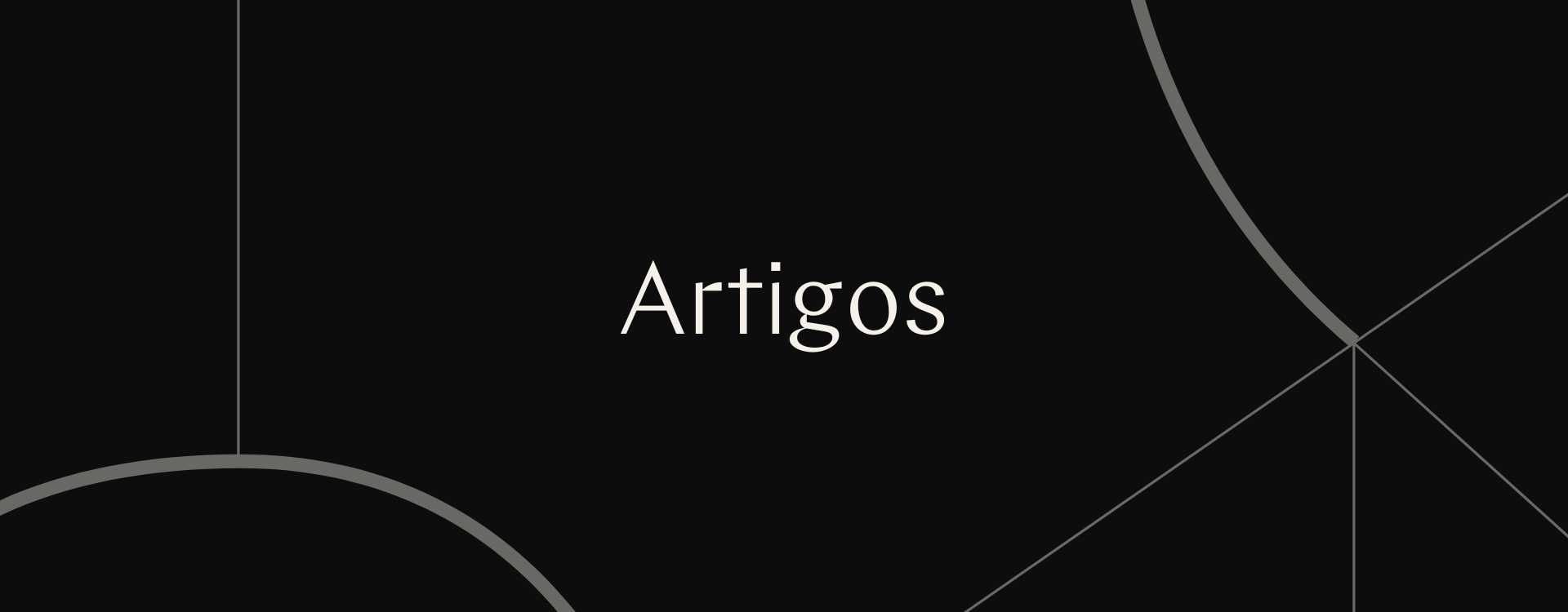Para se abordar a questão sobre a existência de uma nova lex mercatoria, qual seu âmbito de aplicação (isto é, se há ou não aplicabilidade do instituto), é necessário entender primeiro em que consiste uma lex mercatoria. A origem da lex mercatoria é tema indissociável da gênese do Direito Comercial. Por esse motivo, depois de fixado seu conceito, será necessária uma avaliação crítica da evolução histórica do Direito Comercial em face dos limites impostos atualmente pelo conceito de soberania, a fim de que, então, seja possível se avaliar seu espectro de incidência de uma lex mercatória à luz dos vetores da liberdade contratual e da boa-fé.
A concepção de uma lex mercatoria está ligada à necessidade de que o Direito Comercial possa atender às mutáveis exigências do tráfico mercantil, além de ser mais aberto às exigências de uniformidade transnacionais, funcionais às necessidades de um mercado interestatal, afirmação que, conquanto correta, já permite entrever um dos pontos de discussão: aquele relativo à compreensão de soberania (tema que, a rigor, seria relativo à Teoria Geral do Estado). Esse conflito anunciado deve ser objeto de reflexão do pensador do Direito, já que o Direito Comercial compõe o conjunto de forças que permite o desenvolvimento das relações comerciais e o aprimoramento da livre-iniciativa (um dos fundamentos da República, nos termos do art. 1º, inciso IV, da Constituição).
Ainda que o marco temporal e o lugar do nascimento da lex mercatoria seja discutível entre os pesquisadores, há um consenso de que sua origem está ligada ao desenvolvimento do comércio marítimo internacional.
Pensar sobre a lex mercatoria (e se há de se falar de uma nova lex mercatoria) é pensar sobre como o Direito Comercial é feito e para o quê é feito. Seja nas transformações que a sociedade passou com o Renascimento, ou com a Revolução Industrial, ou, ainda, com a massificação das fontes digitais de informação, fato é que esses períodos de grandes mudanças, identificados por questões como o enfraquecimento da relevância das fronteiras geográficas, foram e são marcados pela exigência de um sistema contratual simultaneamente mais completo e mais elástico, pautado na liberdade de formas.
Embora isso seja muito visível nos tempos atuais, assim também foi na origem do direito comercial, que, elaborado em contraposição a institutos do direito comum, posteriormente passaram para este, alcançando uma aplicação geral.
O Direito Comercial pode ser visto como uma categoria histórica voltada ao atendimento de necessidades de agentes econômicos que, evidentemente, estão interessados no sucesso de sua atividade. Daí porque não há como se falar com acerto em Direito Comercial sem se partir da realidade da vida negocial.
Vale dizer, a lex mercatoria tem seu nascedouro com a expansão do comércio internacional marítimo e com as feiras da Idade Média. Todavia, aos poucos, a lex mercatoria passou a ser tratada como costume e prática comercial, a ser provada, na Inglaterra, caso a caso, nas disputas comerciais resolvidas pela Common Law.
A partir do julgamento do caso Pillans v. Mierop por Lord Mansfield (1705-1793), juiz presidente do King’s Bench, passou a se sustentar que as regras da lex mercatoria não se enquadrariam mais no conceito de usos e costumes, mas, sim, seriam matéria jurídica a ser decidida pelos tribunais, de modo que foi, assim, absorvida pela Common Law. Na França, a absorção e desintegração (em favor do Direito local) da lex mercatoria resultou das grandes reformas promulgadas por Luís XIV, especialmente, a partir da edição da Ordonnance sur le Commerce de Terre (1673) e da Ordonnance sur le Commerce de Mer (1681).
Em breve síntese, a lex mercatoria, instrumento utilizado pelos comerciantes, que precisavam de soluções homogeneizadas e tão céleres quanto o demandam as relações negociais, foi, paulatinamente, perdendo espaço em razão da ascensão da ideia de soberania dos Estados Nacionais. Foi justamente em atenção a essas indagações que a literatura apontava a existência de um paradoxo, uma vez que, enquanto o comércio internacional se desenvolvia, os sistemas jurídicos nacionais estabeleciam regras que priorizavam a soberania.
Com o advento da globalização, Berthold Goldman1, em 1964, detecta a existência de um direito costumeiro internacional, referindo-se a uma “nova” lex mercatoria. A primeira menção em seu texto diz respeito exatamente à aplicação desse ferramental consuetudinário em arbitragens envolvendo disputas de comércio internacional, nas quais um contexto de “regras gerais” (aquelas da assim dita “nova” lex mercatoria) é muitas vezes essencial (“un arrière-plan de règles générales leur est souvent indispensable, encore qu’ils n’y fassent pas toujours appel explicitement”).
Merece, ainda, destaque, relação ressonante (isto é, de mútua implicância) entre Direito e Economia como agentes do processo de evolução legal.
O Estado brasileiro, consciente da necessidade de se adaptar à dinâmica do comércio internacional, inseriu em seu ordenamento jurídico a chamada Lei de Arbitragem (Lei 9.307/1996, art. 2º, § 2º) recepcionando instituto típico da lex mercatoria e regulando sua aplicação pelo Estado-juiz, dando, inclusive, especial destaque à autonomia da vontade como um dos princípios informadores do juízo arbitral, possibilitando que as partes realizem o procedimento “com base nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comércio”.
De fato, é o caráter corporativo da comunidade de profissionais ou dos operadores do comércio internacional que lastreia a concepção da “nova” lex mercatoria. Desse modo, torna-se evidente o liame estreito entre a lex mercatoria e a arbitragem, cuja efetividade da decisão não repousa na força do Estado, mas, sim, na da corporação em que se integram as contrapartes que, caso se recuse (ou se recusem) a acatar o laudo arbitral, dela será (ou serão) excluída(s) ante a falta de sua credibilidade e confiabilidade, decorrente da postura assim adotada.
Para que a discussão sobre a uma nova lex mercatoria avance, faz-se necessário, compreendê-la não como um elemento de competição com a lei do Estado, nem, tampouco, como um direito supranacional que derrogue o direito nacional. Deve-se, sim, entendê-la como um direito adotado paralelamente ao sistema estatal e não como um regramento que com ele dispute hierarquia.
Estabelecido que se trata de um sistema normativo que, embora paralelo às regras estatais, eventualmente delas se socorre, cumpre refletir sobre como interpretá-lo. Merecem destaque aqui três elementos de exegese dessa nova lex mercatoria: (1) boa-fé; (2) pacta sunt servanda; e (3) autonomia da vontade.
A aplicação da nova lex mercatoria no âmbito das relações comerciais internacionais possui o benefício de homogeneizar regras e, portanto, parece apta a satisfazer necessidades do mercado pós-industrial. Num mundo de barreiras geográficas quase virtuais – dada a intensidade do processo de globalização e, por conseguinte, das trocas comerciais –, as balizas para que haja previsibilidade e segurança jurídica (já que cada contraparte negocial é um agente de maximização da busca pela satisfação de suas pretensões) devem ser a boa-fé e o pacta sunt servanda os elementos de interpretação. Tais postulados são imprescindíveis para a aplicação de uma nova lex mercatoria a fim de garantir o funcionamento das relações comerciais que já tenha se entabulado sua aplicação e daquelas para as quais as partes, ainda em fase de negociação, cogitam fazê-lo. Sem previsibilidade e segurança jurídica, a verdade é que os custos empresariais aumentarão, e, portanto, dificultar-se-á o tráfico mercantil.
A bem da verdade, previsibilidade e segurança jurídica são os motes maiores das relações comerciais. Não se faz Direito Comercial sem buscar garanti-los. Não há na afirmação qualquer pretensão de imunidade: sempre haverá agentes econômicos dispostos ao inadimplemento e reconhecer essa circunstância não implica mal presságio. Significa, sim, reconhecer que o Direito Comercial é sistema normativo que busca alocar riscos e que esses riscos têm custos. Tais custos, por vezes, atingem somente as partes; no entanto, preocupação maior reside quando extrapolam as partes e afetam objetivos sistêmicos maiores, ponto para o qual a atenção do operador do Direito deve ser constante.
[1] GOLDMAN, B. Frontières du Droit et Lex Mercatoria. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 22, p. 211-230, jul.-set. 2009. [Versão digital].
- GOLDMAN, B. Frontières du Droit et Lex Mercatoria. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 22, p. 211-230, jul.-set. 2009. [Versão digital]. ↩︎